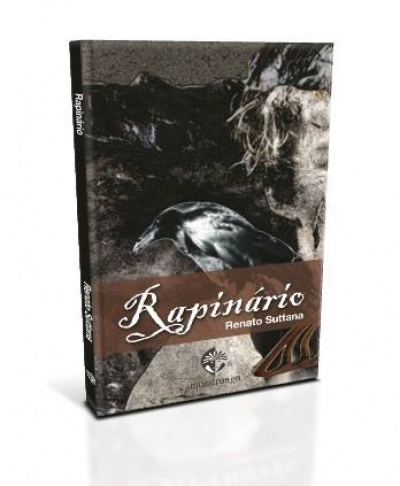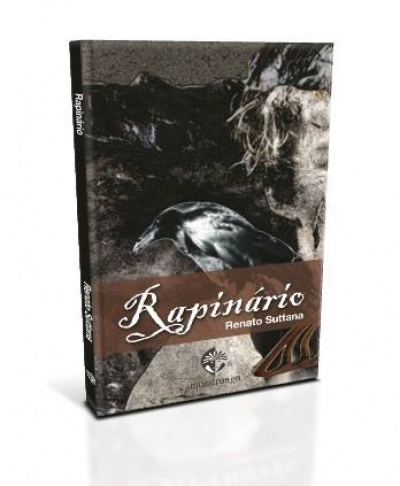 |
POESIA, CRÍTICA,
PALAVRA (III)
(Renato Suttana)
III
O modo como se avançou nessa direção é compreensível e
até explicável. Primeiramente, à pergunta de Drummond
sobre a instância “de onde vêm nossos poemas” se
respondeu com um argumento redutor: se os poemas são
basicamente artefatos feitos de palavras, nada mais
natural que concluir que são também artefatos de
linguagem, isto é, que são meros resultados de um certo
modo de empregar as palavras ou a linguagem — tratadas
aqui como substância ou matéria que se modela para
produzir tais artefatos. O que parece óbvio à primeira
vista, no entanto, contém um erro básico, derivado da
própria redução, o qual é semelhante àquele de supor que
para mover o dedo mínimo podemos dispor de mecanismos
(ou podemos isolá-los) que se destaquem do todo do
complexo cerebral dos indivíduos, incluídos neste o
sistema nervoso, o sistema muscular e evidentemente o
condicionamento psicomotor do organismo.
Assim, a poesia (e a literatura em geral) passou a ser
vista como alguma coisa que se tornaria compreensível à
medida que se estudavam seus mecanismos, fossem esses
quais fossem. Entendendo-a como uma espécie de efeito ou
de resultado de um certo modo de empregar as palavras,
abriu-se um esperançoso caminho para teorias que, cedo
ou tarde, acabariam por desvendar os seus segredos ou o
seu mistério mais profundo — o que parece ter se imposto
à mente dos crédulos também como uma promessa de que,
uma vez desvendado o enigma, a porta de entrada estaria
franqueada, de uma vez por todas, para que qualquer um
se tornasse poeta. Não o digo com menosprezo daqueles
que acreditaram em tal promessa, mas com a consciência
de que isso nos ajuda a entender o processo (ou o modo
como a crítica profissional procedeu para angariar e
reforçar os seus estatutos).
Tudo se passou como se de repente começássemos a
acreditar que alguém poderia aprender a mover o dedo
mínimo antes de aprender a mover os outros dedos da mão
ou a própria mão, ou que alguém poderia aprender a andar
antes de ter conseguido se equilibrar sobre as duas
pernas, e assim por diante. Mas o fato é que a descrição
de um relógio feita a partir das suas partes e do seu
mecanismo jamais alcança nos dar a ideia do que seja um
relógio, a saber: que não se pode passar da substância
ao conceito sem que este preexista a todo o processo da
reflexão e, desse modo, oriente a caminhada (o esforço
de passagem) rumo à sua compreensão. (Encontrar um
relógio em meio ao mecanismo, sem saber o que é um
relógio, seria não menos que impossível.)
Por outros termos, é o mesmo que dizer que, no conceito
de relógio, tudo é relógio, embora, tomadas
isoladamente, suas partes possam sugerir a existência de
outras coisas ou possamos pensar que elas estejam ali
por acaso ou que foram agrupadas ao acaso e tenham
redundado ocasionalmente, ao serem reunidas, num objeto
que nos parece útil para medir o tempo. Mas não é assim
que acontece, e do mesmo modo não é o que se passa na
literatura. Por menos boa vontade que os críticos tenham
em reconhecer esse fato, não se pode deixar de afirmar
que em poesia tudo aquilo com que identificamos o poema
já é, de algum modo, poesia — sendo impossível isolar as
suas partes e, tomando-as separadamente, acreditar que
sejam de fato partes de alguma coisa e que,
destrinçando-as, estudando-as e reunindo-as depois,
chegaremos outra vez ao poético.
Ocorre porém que só o que pode nos levar à poesia é ela
mesma. Toda vez que partimos em seu encalço, traçando
para nós um roteiro, é a poesia que nos orienta, é ela
que nos mostra a direção; e, quando chegamos a algum
lugar, tudo o que fizemos foi caminhar em círculo,
porque o ponto de partida, aqui, é também o de chegada,
sendo ambos uma coisa só. Assim, ao postular a
existência do poema como um artefato de linguagem e ao
supor que a instância adequada para estudá-lo pertence
ao âmbito dos estudos da linguagem (o que permitiu, por
exemplo, a um pensador como Roman Jakobson afirmar num
escrito famoso que a poética nada mais era que um ramo
ou um setor da linguística), a crítica literária abriu
caminho para muitas ousadias. Uma delas foi autorizar as
gentes a crerem que, estudando a crítica literária, se
poderia entender realmente a literatura ou ter dela uma
experiência mais elevada (como a daquele sujeito que
disse certa vez que já não tinha interesse em livros de
poesia ou de ficção porque lhe bastavam os de crítica,
dos quais ao longo da vida se embebera e se fartara à
repleção). Outra ousadia foi a que apontei acima:
acreditar que, estudando a crítica, os autores também se
tornariam criadores razoáveis de literatura, sendo o seu
corolário (algo abusivo) a crença, esposada por alguns,
de que sem um bom conhecimento de crítica ninguém
estaria habilitado a se tornar um bom escritor.
Tudo isso contribuiu para a proliferação desses pequenos
escritores que, tendo frequentado universidades, se
lançaram também à aventura da criação, chegando mesmo a
angariar certo renome nos meios onde o que escreviam
tomou vulto e recebeu acolhida (como é o caso do sr. X —
escritor indubitavelmente menor, que os seus pares no
entanto tratam como se fosse não menos que um novo
Machado de Assis). E contribuiu para nos dar esse
sentimento de regressão ou de que, atolada na
menoridade, a literatura retrocedia sobre seus passos,
tornando-se assunto para adolescentes atrevidos ou para
eruditos irreverentes — quando não se tornou
questão de cursos e diplomas (até o pondo de se poder
supor que fosse necessário conceder aos poetas algum
tipo de certificação oficial para atestar, por escrito,
a sua condição de criadores de literatura.)
Tal é o estado de coisas, que ainda precisamos elucidar,
mas é provável que, para compreendê-lo, tenhamos de sair
da universidade. Talvez necessitemos abandonar a crítica
acadêmica à sua sorte, como um tipo de velharia do
século passado, para só assim caminharmos em outras
direções, passando a entender a literatura como fenômeno
do espírito ou como expressão da existência humana (o
que quer que compreendamos por esses dois termos:
espírito e existência). Para isso teremos de abandonar
também o nosso arsenal de conceitos e, sobretudo, pôr de
lado a mágica das novidades, cujo afloramento se dá na
forma dos neologismos que aparecem e desaparecem
cotidianamente nos lugares onde a crítica é praticada —
além do hábito de achar que seja esta mesma a missão da
crítica: inventar novas fórmulas e palavras ou cunhar
expressões para nomear coisas que nunca se compreenderam
bem.
(Parte
4)
|