|
O
CORVO
(Edgar
Allan Poe – 1845)
Era
meia-noite fria; e eu, débil e exausto, lia
alguns
volumes de vagos saberes primordiais.
E,
já quase a adormecer, ouvi lá fora um bater
como
o de alguém a querer atravessar meus portais.
“É
um visitante que intenta atravessar meus portais” –
pensei.
– “Isto, e nada mais!”
Tão
claramente me lembro! Era o gelo de dezembro;
e
o fogo lançava – lembro – no chão manchas fantasmais.
Pela
aurora eu suspirava e nos livros procurava
esquecer
a que ora errava entre as legiões celestiais –
aquela
que hoje é Lenore entre as legiões celestiais,
sem
nome aqui por jamais.
E
o mover suave e magoado do ermo, roxo cortinado
me
deprimia e me enchia de terrores espectrais;
de
modo que eu, palpitante, calando o peito ofegante,
repetia:
“É um visitante que vem cruzar meus portais,
um
visitante, somente, que vem cruzar meus portais.
Isto
apenas – nada mais.”
Então
minha alma ganhou força e não mais hesitou.
“Senhor”
– eu disse – “ou senhora que lá fora me chamais.
Mas,
porque eu quase dormia, mal ouvi que alguém batia,
que
com sossego batia e discrição tão iguais,” –
murmurei,
abrindo a porta – “que ao silêncio eram iguais.”
E
vi treva, nada mais.
A
escuridão perquirindo, lá fiquei, tremendo, ouvindo,
sonhando,
em dúvida, sonhos que mortal sonhou jamais.
Mas
o silêncio insistia, e a calma nada dizia,
e
a única voz que eu ouvia eram meus profundos ais
e
o nome dela entre os ecos dos meus repetidos ais.
Só
isto, só, nada mais.
Ao
cômodo retornando – minha alma em mim se incendiando –,
ouvi
de novo mais forte baterem aos meus umbrais.
“É
alguém que bate, lá fora, à minha janela agora
e
entrada talvez implora” – pensei, e busquei sinais. –
“Acalma-te,
coração, pois que são estes sinais
só
o vento e nada mais.”
E
então abri a janela, e eis que penetrou por ela
na
câmara um nobre Corvo desses de eras ancestrais.
Entrou
sem deferimento, sem fazer um cumprimento,
dama
ou lorde pachorrento, e pousou sobre os umbrais.
Pousou
num busto de Palas que havia sobre os umbrais,
pousou
lá, e nada mais.
Frente
à ave preta, surpresa, sorriu-se a minha tristeza,
vendo
o seu grave decoro e os seus ares senhoriais.
“Sem
crista embora, e tosado,” – disse eu – “pareces ousado,
duro
e antigo Corvo, nado dos noturnos litorais.
Dize-me
o teu nobre nome lá nos negros litorais!”
E
ele disse: “Nunca mais.”
Meu
espanto foi tremendo tais palavras entendendo
(apesar
de sem sentido) que ele disse, naturais.
E
quem não teria achado que um homem ter avistado
um
pássaro assim pousado por cima dos seus umbrais
é
grande espanto, ainda mais no busto sobre os umbrais,
com
o nome de “Nunca mais”?
Porém
a ave ali quieta nada mais disse, discreta,
como
se a alma toda desse nesses ditos essenciais.
E
nada mais pronunciou, nenhuma pena agitou,
até
que de mim saltou: “Amigos já não tem mais.
Na
manhã, como os meus sonhos, aqui não estará mais.”
E
o Corvo então: “Nunca mais.”
Atônito,
ouvindo aquilo que ele enunciara, intranquilo
eu
disse: “É tudo o que sabes, e mais adiante não vais.
É
o que no passado ouviste de algum dono a cujo triste
destino
acaso assististe com teus olhos penumbrais –
e
cuja dor se exprimia nas sílabas penumbrais
do
teu bordão: ‘Nunca mais.’”
Mas,
sem dele desistir, voltou minha alma a sorrir;
e
uma poltrona arrastei para junto dos umbrais.
E,
então ali me assentando, uns aos outros fui juntando
mil
devaneios, pensando na ave de eras ancestrais,
na
lenta, negra, agourenta ave de eras ancestrais
que
dizia “Nunca mais”.
Lá
fiquei, a cogitar, sem um dito endereçar
à
ave, cujos olhos fixos em meu peito eram punhais;
lá
fiquei, absorto e mudo, pendida sobre o veludo
a
cabeça em tal estudo, sob as luzes espectrais –
o
veludo que Lenore, entre as luzes espectrais,
não
tocará nunca mais.
Supus
que o ar ficou mais denso de algum ignorado incenso
que
os serafins esparzissem com passos angelicais.
“Teu
Deus” – me disse – “gerou-te; pelos seus anjos mandou-te
o
esquecimento, e aliviou-te de tuas dores brutais!
Bebe
o nepente e te esquece de tuas dores brutais!”
Disse
o Corvo: “Nunca mais.”
“Profeta
ou demônio” – eu disse – “que uma asa negra vestisse!
Se
foi a procela ou o diabo quem te trouxe aos meus portais;
se
nesta terra arrasada, deserta, agra e amaldiçoada,
se
nesta casa assombrada pelo horror, de que não sais,
existe
alívio – eu te indago, a ti que daí não sais!”
Disse
o Corvo: “Nunca mais.”
“Profeta
ou demônio” – eu disse – “que uma asa negra vestisse!
Pelo
alto Céu que nos cobre, pelo bom Deus dos mortais,
dize
a esta alma – te conjuro – se nalgum Éden futuro
ela
há de rever o puro ser que agora não vê mais,
de
Lenore o ser radiante e puro que não vê mais.”
Disse
o Corvo: “Nunca mais.”
“Que
a senha do nosso adeus seja esse dito, ave ou deus!
Retorna,
pois, à procela e aos noturnos litorais!
Sequer
uma pluma reste a lembrar o que disseste
e
que em meu tédio irrompeste! Deixa, pois, os meus umbrais!
Não
biques mais o meu peito e foge dos meus umbrais!”
Disse
o Corvo: “Nunca mais.”
E
o Corvo não foi embora: lá ficou, lá se demora,
pousado
no busto branco de Palas, sobre os umbrais,
com
a aparência tristonha de algum demônio que sonha;
e
a luz no piso desenha seus contornos fantasmais;
e
eis que, perdida, minha alma dos contornos fantasmais
se
livrará – nunca mais!
(Tradução
de Renato Suttana)*
*Direitos
da tradução reservados ao tradutor
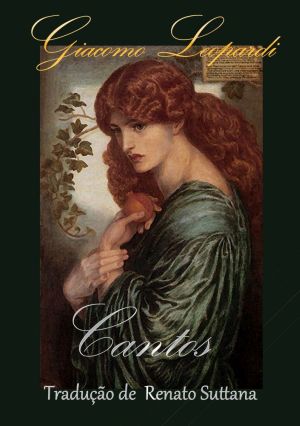
|
